
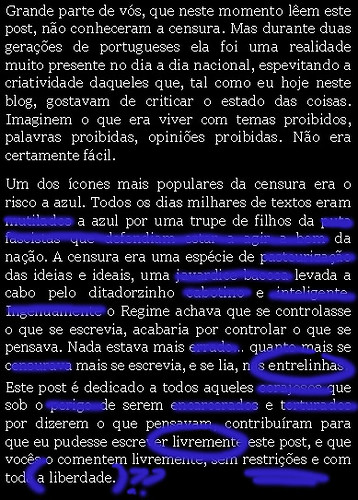

O relato desportivo é daquelas coisas que me enervam de sobremaneira. Que raio de profissão é aquela, cujo desempenho consiste em explicar aos outros exactamente aquilo que eles estão a ver? Ver um relato de futebol na televisão é um suplício: se quero ouvir os sons do estádio (que até dão emoção às jogadas, tipo banda sonora dos filmes de terror), tenho inevitavelmente que levar com um ou dois mongos a explicarem-me que o jogador que tem a bola é o fulano de tal, e que a passou para o beltrano de tal, que por sua vez a rematou à baliza de cicrano de tal. Nada que eu não esteja a constatar ao mesmo tempo. E o que dizer de um relato de fórmula 1? Fulano vai à frente de beltrano, beltrano vai mudar de pneus, beltrano mudou de pneus, beltrano está a usar pneus de chuva – tudo informações inéditas que se eles não me dissessem (e se eu não estivesse a olhar para a televisão) nunca iria saber...
Algures na transição da rádio para a televisão, alguém se esqueceu que os relatadores, agora pomposamente chamados de comentadores, perderam a sua razão de ser. São redundantes. Obsoletos. Estupidificantes.
Ter um gajo a dizer-me através de um transistor o que se está a passar num jogo de futebol que eu não estou a ver é uma coisa que me faz algum sentido. O relatador radiofónico, em toda a sua histeria, faz sentido. Agora eu estar a ver um jogo na televisão e ter um gajo a explicar-me o que se está a passar é que não faz sentido nenhum. Porque raio é que existe o relatador televisivo? Será que eles duvidam que os telespectadores estejam a perceber o que se está a passar? Será que se não houvesse um relatador televisivo iríamos chegar ao fim do jogo profundamente baralhados sem saber o que tinha acontecido naqueles 90 minutos? Se o problema é dar emprego a essa gente, o melhor seria mandá-los relatar os acontecimentos da Quinta das Nulidades, naqueles momentos em que eles abocanham as partes baixas uns dos outros, no celeiro. Podia ser que dessem mais emoção ao programa. Ou não...

Há palavras lixadas no vocabulário nacional. Daquelas que têm tantos sentidos que deixam um estrangeiro esquizofrénico e só são entendidas em contexto pelos nacionais porque na realidade a esquizofrenia faz parte da nossa portugalidade. "Caso" é uma dessas palavras. A aplicação desta palavra em contextos diversos assume significados múltiplos que só os portugueses conseguem descodificar.
“Ter um caso”, por exemplo, implica necessariamente a presença de alguém que partilha esse caso connosco. Para se ter um caso, tem que se ter um caso com alguém. Nunca se pode ter um caso sózinho, ou na pior das hipóteses pode-se, mas teremos simultaneamente de “ser um caso clínico”.
Quando dizemos “um caso sério” já não estamos a falar de relações fortuitas entre pessoas, porque “ter um caso” é algo que, supostamente, não é sério. Se fosse sério não seria um caso. Seria uma relação. Isto significará portanto que qualquer relação é “um caso sério”.
“Não fazer caso” é algo que fazemos sózinhos sem que nos acusem de padecer de qualquer desarranjo mental desviante. Mas é algo que não podemos fazer numa relação sob pena de nos acusarem de falta de atenção. Se tiverem uma relação, sigam este conselho: façam muito caso, mas daquele sério ok? Porque se fôr do outro não terão essa relação por muito tempo. Adiante…
“Estar a trabalhar num caso” não significa estar a arrastar a asa a alguém. Implica desenvolver um profissão normalmente ligada à área jurídica, ou de investigação policial. Se ter um caso é algo que se desenvolve como exercício de lazer, trabalhar num caso implica uma especialização profissional.
O caso também pode ser entendido como causa para um determinado efeito. E aí chama-se “caso para isso”. Por exemplo, um homem descobre que a sua mulher teve “um caso” com o padeiro, fica muito enervado, acha que aquilo é um “caso sério” e fica prontinho para arrear um camaçal de porrada naquele cabrão enfarinhado. É nessa altura que um amigo lhe diz “Oh pá, não é caso para para estares tão enervado, deixa lá as coisas connosco que a gente esta noite rebenta-lhe com a padaria toda”. Se o cornudo “não fizer caso”, alguém no dia seguinte vai “trabalhar no caso” da padaria que implodiu no centro da cidade. E explicar isto tudo a um estrangeiro?



Vi há uns dias na SIC os resultados de uma sondagem onde perguntavam aos telespectadores portugueses que nacionalidade é que estes achavam que o novo Papa devia ter. Surpresa das surpresas, a nacionalidade portuguesa foi a escolha de 82% dos telespectadores. Para uma sondagem imbecil temos aqui um resultado idiota. Porque raio existem 18% de inquiridos que não querem um Papa luso? Será porque desconfiam tanto do poder de gestão dos conterrâneos que nem para gerir as alminhas dão uma abébia a um tuga?
Seja como fôr acho que os portugueses são recorrentemente chamados a pronunciar-se sobre tudo e mais alguma coisa. E o pior de tudo é que se pronunciam mesmo, sem pudores, sobre os assuntos mais estúpidos: deverá o primeiro-ministro morar em S.Bento ou continuar a viver na sua casa? Deverá o presidente ingerir na governação do país a seu bel prazer e fazer jogadas políticas manhosas? Deverá o Mourinho vir treinar a selecção portuguesa antes ou depois do desaire do próximo Mundial? Deverá haver um próximo Mundial?
Por mais inconsequente que seja a sondagem, lá estão os portugueses a votar como se não houvesse amanhã, completa e boçalmentemente alheios à quantidade de dinheiro que gastam nos sms de resposta, e cientes que, qualquer que seja a conclusão da sondagem, a sua opinião não servirá para coisa nenhuma.
O que é estranho é não ver este empenho opinativo em situações em que a sua opinião pode mudar o curso das coisas: vejam-se as eleições legislativas e a quantidade de gente que se abstem de ir às urnas, vejam-se as eleições autárquicas com uma abstenção superior às anteriores, e mais grave, vejam-se os referendos nacionais e a fraca participação que estes têm. Na realidade os portugueses não querem sentir-se responsáveis. Votar em sondagens bacocas é porreiro porque dali não há-de vir mal nenhum ao mundo. Votar em coisas que podem mudar o estado das coisas é que não pode ser! Livra! Imaginem que a coisa dá certo? Os portugueses vão queixar-se de quê?
Há muitos muitos anos atrás, ainda o marketing era um conceito esquisito destinado a dar emprego a uma chusma de inúteis (interessante ver como ainda hoje este conceito não mudou) um empregado dos correios, ao ver que o número de correspondência diminuia a olhos vistos por causa da maior popularidade do telefone, teve uma ideia perversa: escreveu uma cartinha que viria a tornar-se um fenómeno de sucesso, assegurando o emprego de muito carteiro por esse mundo fora. A cartinha dizia, grosso modo, que era portadora de sorte a quem a lia e a enviava para 10 pessoas (incluíndo uma moeda de centavos, para dar um ar credível à coisa). Dizia também que quem não a enviasse iria ter uma incalculável maré de azar. Quem terminasse a cadeia de correspondência estava, em suma, condenado a ser um verme desgraçado para o resto dos seus dias, havendo dúvidas que pudesse, a partir daí, fazer uma vida normal sem utilizar roupa interior . O empregado dos correios foi promovido e altamente recompensado depois de, passados poucos dias do envio da cartinha, se começar a reparar no impacto que esta teve no aumento de correspondência. Ninguém queria cair em desgraça e toda a gente desatou a enviar cartas com moedas de centavos lá dentro.
O e.mail veio acabar com o império da cartinha maravilha. Temporariamente. Não tardou em que aparecessem novas variantes de “e.mails da sorte” que tramavam para o resto da vida quem se atrevesse a romper a cadeia. Ora a cartinha eu ainda percebo a razão da sua existência: os correios precisavam de facturar. O e.mail em cadeia não tem razão de existir, senão a de provar que ainda há papalvos que acreditam em tudo o que lêem. Se alguém tem dúvidas que não vai ser atropelado por um camião de oito rodados, nem que será incapaz de manter uma erecção por mais de 30 segundos, ou que toda a sua família será dizimada por um grupo dissidente de guerrilheiros xiitas, só porque interrompeu uma corrente de e.mails bacocos, fixem uma coisa: não é verdade, não vai acontecer, ok? Acreditem em mim. Relaxem.
O Estado legisla contra o tabaco, primeiro colocando umas mensagens intrusivas nos maços de tabaco e em breve proibindo o consumo de tabaco no local de trabalho.
Isto é uma grandessíssima bandalheira, meus senhores! A questão dos avisos nos maços de tabaco é, no mínimo, tendenciosa e ridícula. Se querem alertar o consumidor para os malefícios do tabaco, porquê parar por aí? Até parece que o tabaco é o único bem de consumo que mata. Seguindo este raciocínio didáctico do Estado eu acharia bem que os produtos ostentassem avisos semelhantes aos do tabaco, ocupando cerca de 40% das embalagens. Os automóveis, por exemplo, saíriam de fábrica com avisos em todas as portas: “Conduzir Mata!”, “Se estiver grávida não acelere muito”, “Os transportes públicos podem ajudá-lo a deixar de conduzir”; as garrafas de água, que também podem ser um bem de consumo perigoso, ostentariam enormes avisos de saúde no rótulo: “Beber água em excesso afoga!”; os aviões: “Voar pode Matar”; “A probabilidade de você sobreviver à queda é minúscula”; “Se o Estado quisesse que você voasse tinha-lhe dado asas”; os lápis: "Espetar isto num olho pode causar cegueira e morte dolorosa (por esta ordem)". E assim por diante.
Não fumar no local de trabalho também é uma medida de suprema inteligência. Como tudo pode ser considerado o local de trabalho de alguém, vai chegar a um ponto em que só poderemos fumar em casa. Fumar nas ruas vai deixar de ser possível, uma vez que as ruas são o local de trabalho das prostitutas e dos chuis da ronda. O mais provável, se acendermos um cigarro numa esquina, será levarmos com um polícia a dizer-nos que não podemos fumar num local de ataque.
O Estado português é do mais provinciano que existe no que toca a adoptar medidas europeias. É leonino. Implacável. Eficiente. Pena que não seja implacável e eficiente a implementar medidas que tornem os portugueses mais parecidos aos europeus no que respeita a poder de compra, educação, e segurança social. Onde realmente interessa, o Estado português é perfeitamente incompetente.
Em Portugal, a forma mais prática de não se tomar qualquer decisão é promover uma reunião. Por isso é que o país se arrasta penosamente de crise em crise, afogado em reuniões que justificam o salário de quem as faz, mas que não resolvem absolutamente nada.
Portugal sofre de reunite, um mal que dita que não há urgência que não possa esperar 15 dias, ao ponto de deixar de ser urgência porque se acabou por resolver por si. A razão da reunião é muito simples: é empatar o processo de tomada de decisão a um ponto de já não fazer sentido tomá-la. Na génese do processo está a incapacidade, e a falta de vontade de se tomar a decisão, porque ao fazê-lo poderemos estar a comprometer qualquer coisa no nosso futuro. Assim não corremos o risco de sermos acusados de tomarmos uma má decisão.
E depois a reunião dá uma ideia ilusória de que estamos a trabalhar: fechados numa sala de reuniões a discutir o sexo dos anjos, e a justificar um salário, os portugueses sentem-se úteis, independentemente se no final do dia se chegou a alguma conclusão. Aliás, a conclusão mais obtida em Portugal é que se tem de fazer outra reunião para esclarecer o que ficou por concluir, e assim até ao infinito. Por isso, quando ouço o Sócrates dizer que a primeira medida que tomou quanto à posse ilegal de armas de fogo é fazer uma reunião, fico descansado: vou poder continuar a manter a minha bazuca sem que ninguém me chateie.
Quando analisada e descrita sob uma perspectiva turística, a tourada é considerada uma afirmação de virilidade e supremacia física do homem face à besta. Para mim a tourada é a prova cabal que a estupidez e a bestialidade humanas não só não têm limites, como gostam vaidosamente de exibir essa evidência.
Não sou nenhum fundamentalista dos direitos dos animais: gosto do belo bife e da suculenta bifana, e não entro em depressão quando mando abaixo um fondue de carne, mas decididamente não gosto de tourada.
Somos muito lestos a julgar a crueldade humana quando ela é exercida sobre humanos. Montamos verdadeiros espectáculos mediáticos para difundir a sua punição exemplar: aquele que normalmente me vem à cabeça é o julgamento dos nazis em Nüremberg, mas há muitos outros “nürembergers” por aí. No entanto desculpabilizamo-nos à brava quando a nossa crueldade é glorificada, espectacularizada, e aplicada nos animais. Até parece que o facto de termos um cérebro mais desenvolvido nos dá o direito de acharmos que tudo isto nos pertence. A tourada é só um exemplo deste abuso de inquilino. Um exemplo circunscrito a Portugal e Espanha e a mais umas quantas novelas sul-americanas (estou a excluir a tourada com velcro no Norte da Califórnia, porque isso já nem se pode considerar tourada).
Sinto uma compulsão irreprimível de pontapear repetidamente as gengivas de quem me diz que a tourada portuguesa é mais “humana” que a espanhola porque (alegadamente) não matamos o touro. E quando surge a recorrente polémica bacoca dos touros de morte em Barrancos, só me apetece tornar S. Bento numa Pamplona, e fazer uma largada de touros no parlamento. Mais “humana”?? A tourada portuguesa é uma tourada apaneleirada!
Em Espanha os cornos dos touros não são protegidos; se acertarem no toureiro perfuram-no (e muito bem!). Em Portugal os touros são “embolados”, protegem-se os cornos para não ferirem ninguém. Mas que paneleirice é esta? Então não queriam provar a virilidade?
Em Espanha matam-se os touros na arena. Em Portugal não: depois de o sangrarem cobardemente com ferros e bandarilhas, salgam-lhes as feridas (alguém já uma vez colocou sal numa ferida? Experimentem...), e abatem-nos fora dos olhares alheios. E depois vêm dizer-me que é mais “humano” e ficam todos histéricos com os touros de morte de Barrancos...
Eu acho que a manter-se a estupidez da tradição tauromáquica se devia dar uma oportunidade ao touro. Em vez de fazerem as “pegas de caras” quando o touro já perdeu as suas forças, dilacerado e sangrado por aqueles bandalhos rabetas a cavalo, devia fazer-se a “pega” logo no início do espectáculo, quando o touro está fresquinho e vivaço, e ninguém o segura. E devia “desembolar-se” o touro, para a coisa ser a sério. Desconfio que a taxa de mortalidade dos participantes seria tão alta que rapidamente de decretaria o fim da tradição.
O primeiro mamífero que eu colocaria à frente do touro seria a Fátima Lopes, essa javardolas que gosta de animais peludos à boa maneira de Hannibal Lecter. O touro iria certamente ter muito gosto em toureá-la em profundidade, qual somali desenfreado, e sem mãos – só com os chifres. OLÉ!
De tempos a tempos Portugal aparece mencionado numa daquelas estatísticas da comunidade europeia que comparam os índices de produtividade dos Estados Membros. Inevitavelmente ocupamos um lugar cimeiro no pelotão dos mais improdutivos. O que torna os portugueses o povo mais improdutivo da Europa? Será a nossa proximidade do Norte de África? (provavelmente seríamos os mais produtivos do Norte de África!) Será por sermos arraçados de árabes? Ou apenas porque somos uns madraços incorrigíveis?
Eu tenho uma perspectiva bastante clara sobre este défice nacional de produtividade: o problema reside no empresário português, esse mamífero que consiste num enxerto de comerciante de feira com um MBA no levantamento do copo. Por mais esforçado que seja, o trabalhador português não consegue contrariar a chusma de disparates cometidos pelo empresário tuga que lhe paga (até ver) o ordenado. E o que torna o empresário português uma verdadeira pérola da gestão de mercearia? Eis algumas características fundamentais:
Para o tuga empresário os objectivos são metas que escarrapacham aos olhos de toda a gente o quão incompetente ele é na gestão do seu negócio. Portanto é melhor que não se fale muito nisso. Para qualquer empresário tuga o objectivo é ganhar o mais possível, pagar o menos possível, fazendo o menos aconselhável.
Reparo romanticamente que cada um de nós transporta na sua mão todas as idades humanas descritas no post anterior. Olhem para os dedos da vossa mão direita (olhem para a mão esquerda se forem canhotos):
O polegar representa a Idade da Mama. É normal ver a malta agarrada a ele, a chuchar.
O indicador, o nosso dedo mais inquisitivo, representa a Idade da Avaria. É ele que escolhemos para pressionar tudo e todos que se atravessam à nossa frente, provocando avarias várias ao longo da nossa vida.
O médio representa a Idade da Hormona Desenfreada. Penso que escuso de referir qual a razão. É evidente q.b.
O anelar, o dedo do compromisso, representa a Idade da Ilusão. Todos os compromissos, como teremos um dia a oportunidade de constatar, são pura ilusão.
E finalmente o mindinho, o mais frágil dos dedos, representa a Idade do Rododendro Equivocado. Não é um dedo particularmente útil nem activo, mas faz imensa falta.
Se há um termo que me deixa perplexo é a “terceira idade”. Principalmente porque nunca ouvi qualquer referência à “primeira” nem à “segunda” idades. Como é que se processa esta ordenação? Isto cheira-me a coisa de sociólogos: são muito desenvoltos na estatística mas baralham-se com qualquer número que não tenha uma percentagem.
A outra questão que me coloco é se haverá uma “quarta idade”? Ou pelo menos se haverá tempo para isso? Duvido. Ninguém tem grande pachorra depois dos 80 anos. Isto de se numerarem as idades omitindo umas, e morbidamente destacando uma delas não me parece um bom método de classificação da longevidade humana.
E depois há aquela designação que é a “Idade de Ouro”, um sinónimo da “terceira idade”. E mais uma vez não há alusões a idades anteriores à do “ouro”. Ao menos os paleontólogos foram mais explícitos quando atribuíram metais aos vários estágios da evolução humana nos seus primórdios…
Uma vez que não está encontrada nenhuma razão plausível para a “terceira idade” ou para a “idade do ouro”, sugiro que se faça uma classificação decente do fenómeno do envelhecimento humano. Assim sendo, vamos considerar a exsitência de cinco idades:
Inicia-se no nascimento e conclui-se no momento em que deixamos de mamar e passamos a apreciar coisas sólidas e mastigáveis. Há malta que nunca abandona esta idade e vai querer mama até ao fim dos seus dias: são os mamões, esses ordinarecos chupistas.
É uma fase de pura descoberta onde tentamos perceber a razão das coisas. É normal que nesta fase tenhamos que substituír vários electrodomésticos lá em casa, vítimas de dissecação e estropiamento mais ou menos violento.
Há malta que nunca abandonará esta idade e continuará em plena avaria até ao fim dos seus dias. Refiro-me obviamente aos políticos e à malta que ocupa cargos públicos.
Nesta fase descobrimos a nossa sexualidade e a de mais umas boas dezenas de pesssoas. Os casos mais extremos até descobrem a sexualidade de alguns animais. Uma verdadeira porcaria. Também aqui há uns quantos que nunca vão abandonar esta idade. O espécime mais paradigmático desta idade é o Zézé Camarinha.
Esta é a idade mais longa. Aqui vamos querer provar a nós próprios e aos outros que temos uma qualquer habilidade: social, pessoal ou profissional. Alguns conseguem-no provar na sua totalidade. Outros não. Nesta idade a ideia de felicidade começa a tornar-se obsessiva, ao ponto de se esgotarem todos os cartuchos a tentar atingi-la. Eventualmente alguns irão entender que felicidade é um estado transitório que não augura nada de bom. Mas a maioria ficará na santa e salutar ignorância, a caminhar para um horizonte que se afasta à medida que nos vamos aproximando. A busca por esta linha do horizonte vai fazer com que uma grande maioria de nós passe por esta idade sem tirar verdadeiro partido dela. Azarito.
Chegamos então à idade mais lixada, por ser a última. Depois dela deixamos de ser convidados para a maioria das festas de aniversário. Os nossos interesses simplificam-se substancialmente nesta idade. Já ficamos satisfeitos se os nossos intestinos funcionarem uma vez por semana, e se a escoliose nos permitir tratar do rododendro (se bem que nos esqueçamos frequentemente do nome do raio da planta que diária e religiosamente regamos para matar o tempo antes que ele nos mate a nós).

Os italianos têm a Camorra; os japoneses têm a Yakuza; os russos tem as suas Máfias; os chineses, as suas Tríades; os espanhóis, a Opus Dei; e os portugueses têm os farmacêuticos, esses balconistas que lidam com drogas e que controlam a saúde em Portugal. Qualquer negócio que consista na venda de drogas e consiga parecer legítima só pode ser gerida por seres perversamente inteligentes. Os farmacêuticos nacionais decidem quem pode entrar no negócio, quem pode expandir o negócio, quais os laboratórios que terão um bom ano de negócios, que médicos farão uma viagem de “trabalho” ao próximo paraíso tropical, e que saúde terão os portugueses este ano, com ou sem genéricos. Tudo isto sem um resquício de concorrência, e com o aval do Estado. Perto deles a Opus Dei é uma brincadeira de meninos endinheirados com uma estranha fixação em peúgas roxas.
Quantos escândalos envolvendo médicos são conhecidos? Alguns, porque a Ordem é forte. Quantos escândalos se conhecem envolvendo laboratórios? Muitos, mas mesmo muitos, porque a desordem é grande. E quantos escândalos se conhecem envolvendo farmacêuticos? Nenhum. Não é estranho?
Eu tenho uma teoria quanto a esta coisa dos escândalos: quando há dinheiro para todos é altamente improvável que surjam escândalos. Há uns tempos escrevi que a profissão com mais futuro em Portugal era a Agricultura, pois bem, a profissão com mais presente é a farmacêutica. Literalmente.

